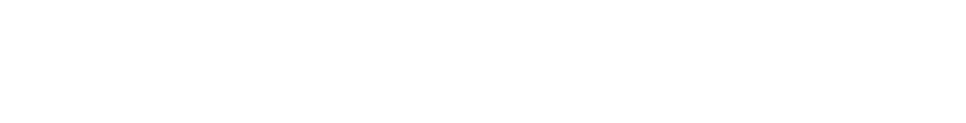Celso Gitahy: da cena punk ao retiro na serra
A jornada espiritual de um ícone da arte urbana
Por Alexandre Teixeira (texto) e Maialu Ferlauto (fotos)
Celso Gitahy, um dos ícones da arte urbana no Brasil, deixou o agito paulistano para trás e hoje vive “escondido” em sua casa-ateliê na Serra da Cantareira. Não chega a ser uma ruptura. Desde criança é assim. A arte está onde ele mora. Sua família é de artistas. A mãe era pintora, autodidata. O pai, ilustrador. Os avós também tinham uma relação muito estreita com a pintura. Gitahy nasceu no Brooklin. Depois mudou com os pais para a Zona Norte. Morou no Jardim São Paulo, passou muito tempo no Jaçanã, foi viver sozinho por uma temporada em Pindamonhangaba, no interior. “Sou meio sambadinho”, diz. Sua primeira referência cultural extrafamiliar foi o movimento punk, no começo do anos 80. “Eu andava com a galera de Santana. De vez em quando a gente ia para a cidade, para o centro, na [estação do metrô] São Bento”, lembra ele. Ali sua turma cruzava com os “punks da city”, o que não raro resultava em confusão.
Pouco interessado nas tretas, Gitahy montou uma banda – de início, Rejeitados; depois, NeoSistema. Não adiantou. “Era muita falação, um falando mal do outro, competição. Comecei a pensar: ‘Não é possível que arte seja isso. Essa ansiedade toda, um querendo ser mais que o outro’”, conta. Ele começou a ler de tudo, principalmente filosofia. Até que lhe caiu nas mãos A Erva do Diabo, do antropólogo e escritor peruano Carlos Castañeda. O livro traz os ensinamentos que o autor, supostamente, recebeu do índio yaqui dom Juan Matus, quando estava na fronteira dos Estados Unidos com o México.
As descrições da experiência xamânica etnobotânica de Castañeda, centrada no estudo do uso ritualístico de plantas psicoativas como o peiote, abriram precocemente para Gitahy – então com 16 para 17 anos – as portas da percepção. “Minha mãe falava que, quando criança, eu já era estranho”, lembra. Ele não sorria, não se enturmava, era muito solitário. Só depois foi entender que aquela era a condição do artista. Com o punk, veio a compreensão de que a arte não é só decoração. “Ela está mais ligada à questão do indizível, de você conseguir cercar as coisas que as pessoas normalmente não conseguem dizer”, elabora. “O mote da poesia é isso: conseguir realmente expressar o que está à margem, o que está nas entrelinhas”, diz Gitahy, com galos cantando ao fundo. “Aí conheci o Santo Daime, cara”, afirma ele. Sua vida e sua obra seriam guiadas, a partir de então, por questões da filosofia, da poesia e da espiritualidade. “Foi o que me salvou.”
A entrada na faculdade, o Centro Universitário Belas Artes, foi libertadora, porque lá ele conheceu o grafite. Vendo trabalhos de Alex Vallauri, o incontornável pioneiro paulistano, com suas botinhas e a clássica Rainha do Frango Assado. “Todo mundo comentava”, lembra Gitahy. Até então, para ser artista era preciso ter currículo. Para expor numa galeria, era preciso ter marchand. O grafite pula tudo isso. Não é preciso marcar vernissage, convidar gente conectada, fazer social. Pinta-se na rua, e todo mundo vê – o que tem muito a ver com a filosofia punk do “faça você mesmo”. Na Belas Artes, ele conheceu Maurício Villaça, artista plástico e companheiro de Alex Vallauri. Aproximou-se de Jorge Tavares, um dos pioneiros do estêncil em São Caetano. Com eles, entendeu que é preciso ter uma marca.
Criando seu repertório de imagens
Sua primeira foi uma torneira da qual escorria uma bola, que Gitahy desenhava a mão livre com canetão hidrocor nos banheiros dos bares que frequentava. Certa vez, ao voltar a um boteco no Bixiga onde deixara essa marca, ele encontrou escrito ao lado de sua torneira: “Que louco!”. Caiu a ficha: dá para conversar visualmente, sem conhecer as pessoas. Ele começou repetindo a torneira e, aos poucos, foi desenvolvendo um estilo, criando seu repertório de imagens. Fez uns personagens punks, em especial os Ramones, até hoje uma das imagens mais emblemáticas da Vila Madalena, na parede do bar do Seu Alonso, rebatizado “Bar dos Ramones”, na esquina das ruas Fidalga e Wisard. O estêncil de 1994 foi aplicado no bar em 2004, restaurado em 2012 e está lá até hoje.
Em novembro de 2002, quando o Tendal da Lapa organizou uma segunda edição do histórico festival punk O Começo do Fim do Mundo, Gitahy foi pintar. Ele estava presente na versão original, realizada no Sesc Pompeia, em 1982. Guarda boas recordações da adrenalina do encontro de tribos punks de toda a região metropolitana de São Paulo e más lembranças da violência e do machismo do movimento. Gitahy optou pelo caminho da arte e se distanciou do universo punk. Guarda na memória as precaríssimas viagens com sua banda. “A gente pegava os instrumentos e enrolava num cobertor, porque não tinha case. Amarrava com fitilho e caia no mundo”, conta. O grupo foi de ônibus para o Rio e para Minas. O ponto alto da turnê improvisada foi a passagem por Juiz de Fora. “Cara, eles levaram a gente pra ficar na república das meninas. Eu amei.”
Antes do Daime, porém, Gitahy era autodestrutivo, algo que atribui a modelos como Sid Vicious. “Aí eu conheci uma menina também muito louca. Foi a gota d’água, porque ela era mais louca do que eu”, lembra. “Foi quando eu falei: ‘Mano, preciso encontrar uma saída.” Ela surgiu num evento da Secretaria do Meio Ambiente, a que ele compareceu com Márcio Fidelis, um colega da Belas Artes. A proposta para os grafiteiros ali reunidos era passar uma semana no Horto de Campos do Jordão, com vários outros artistas do Brasil inteiro, com o objetivo de montar um acervo permanente para aquele parque estadual. Ao final da semana, a organização escolheria uma obra de cada participante. Gitahy aceitou o convite e, no dia programado, partiu num microônibus com 19 colegas. Cada artista tinha de levar o seu material – o que todos fizeram, exceto Ivan Viana Sudbrak, que se tornaria um de seus grandes mestres. “Não precisa de material, na hora a gente resolve”, disse ele. “Eu já comecei a achar legal”, lembra Gitahy.
Metade dos artistas era acadêmica; metade contemporânea. O primeiro grupo ficava logo na entrada do parque, numa casa em estilo colonial. Os segundos numa cabana mais retirada. Viana optou por se juntar aos jovens grafiteiros, simpatizou de cara com Gitahy e lhe disse: “Você precisa conhecer um negócio que vai mudar sua vida”.
O “negócio” era o guru indiano Rajneesh, mais tarde conhecido como Osho. “Na época isso era novidade, cara”, nota Gitahy. Ivan Viana já era “sanyasi”, ou seja, iniciado no Osho. Gitahy passou a frequentar o grupo, e assim chegou ao Daime, que diz ter mudado sua vida. “Na primeira grande miração que tive, eu precisei deitar, numa das sessões. Deitei no chão e já apareceu aquele sagrado coração de Jesus, com os espinhos em volta, tipo holográfico, dentro de mim. Eu vi meu corpo por dentro”, relata ele.
Vários órgãos apareciam enegrecidos. “Aí vinham umas mãozinhas, com umas ervas, cuidando, colocando unguentos”, continua Gitahy. “Uma voz no meu ouvido dizia: ‘Você está se autodestruindo. Este corpo é emprestado, é o seu templo. Você não pode fazer isso. Tem que cuidar com amor, senão você vai morrer”. Ele conta que chorou e prometeu cuidar melhor de si mesmo. Fez um pacto com seu lado espiritual. Isso foi em 1991. Os três anos seguintes foram sua fase de adaptação ao Daime. “De 94 pra frente, eu já estava fardado e entrei para a história mesmo”, diz. No Santo Daime, estar “fardado” significa ser um membro iniciado na doutrina, que utiliza uma farda ritual durante os trabalhos e já recebeu a estrela, símbolo de compromisso com a doutrina, segundo o site Santodaime.org. O fardamento é um ritual de passagem que marca a entrada do indivíduo como membro efetivo da casa e da doutrina de Juramidam. Isso impactou sua produção artística, na medida em que lhe deu disciplina para o trabalho.
Oficina de grafite
Não foi, porém, um período de recolhimento. Ao contrário, São Paulo era o espaço para sua arte. Pintar na rua era parte de seu dia a dia. “É uma delícia. Tudo pode acontecer, tanto pro bem quanto pro mal. Não tem como não ter adrenalina”, explica.
Ele começou na região da Belas Artes, na Vila Mariana. Pintou no Centro também, sobretudo no Bixiga. Foi a Santana. E logo começou a dar oficinas de grafite. Trabalhar era uma necessidade, até para pagar a faculdade. Seu primeiro emprego foi na Secretaria da Educação, como auxiliar administrativo. De cara, o colocaram no almoxarifado. Mas alguém comentou que ele estudava na Belas Artes, o que rendeu um convite para ocupar uma vaga aberta no Centro de Multimeios, para fazer ilustrações. O que já era bom ficou melhor quando Gitahy soube de um projeto da USP de oficinas pedagógicas, aproximou-se do professor Carlos Eugênio, um dos responsáveis, e foi convidado para dar uma oficina de grafite. Corria o ano de 1993, e a arte de rua começava a ser institucionalizada.
Gitahy viveu esse processo. “Eu fui muito atacado no começo. ‘Como você vai ensinar grafite na escola? Na rede pública?’”, conta. “O discurso era esse: transformar o pichador em artista. Aí que entortou, porque a galera dizia: ‘Vocês estão querendo cooptar os pichadores, encaretar o negócio’”. A lógica, porém, era outra. Partia da compreensão de que os pichadores queriam se expressar, mas não tinham repertório nem técnica. Então, escreviam seus nomes nos muros. “Aí a gente começou a falar: ‘Tudo bem, você pode escrever o nome, mas também pode fazer uma composição, pode pintar”, lembra Gitahy. Segundo ele, ninguém dentre os grafiteiros da primeira geração gostava daquela forma mais crua de expressão da dupla Juneca e Pessoinha e de outros pichadores, com exceção de Maurício Villaça, que percebeu que aquilo era um fenômeno. Na pichação, dizia ele, a assinatura precede a obra. O pichador é a obra.
Nas oficinas que Gitahy dava, havia pichadores que se tornavam grafiteiros quando passavam a ter repertório e técnica. Alguns até passavam a viver da arte que produziam. Para isso, Villaça foi fundamental. Ele provavelmente foi o primeiro artista urbano paulistano a assinar suas obras. Na rua. Logo começou a colocar o telefone – e pessoas passaram a ligar comissionando trabalhos. O muro virou vitrine. A brincadeira ficou séria. É quando surge o personagem TVnauta, que se tornaria sua marca registrada.
“Minha mãe me pedia pra comprar aquelas revistas Tititi, de novela”, lembra. Gitahy gostava de folheá-la, menos pelas tramas televisivas do que pelas belas atrizes. Foi numa Tititi que ele viu uma cena com Francisco Cuoco vestido de apicultor. Percebeu no ato o potencial da imagem e decidiu transformá-lo num astronauta. Colocou papel vegetal em cima da foto e desenhou só as linhas com caneta nanquim. No lugar da cabeça do apicultor, colocou uma televisão. Quando mostrou sua criação ao professor Carlos Eugênio, ele disse: “É um TVnauta!”. Pronto, estava batizado o personagem.
Gitahy começou a pintá-lo pela cidade. Quando seus TVnautas apareceram no “Buraco da Paulista”, o Metrópolis, da TV Cultura, os fotografou e fez um a vinheta de abertura do programa. “É um dos personagens mais emblemáticos que eu tenho”, diz.
Aos 57 anos, ele segue grafitando nas ruas. Hoje em dia, nota, o risco são as câmeras de segurança onipresentes em São Paulo. Seu trabalho mais recente está perto da sede paulista da Funarte, um TVnauta tocando guitarra na Alameda Nothmann.
Gitahy comprou o terreno na Cantareira em 2010 e passou cinco anos construindo a casa onde mora e trabalha hoje. Em 2015, se mudou. “Em busca de uma paz”, explica. Até então, ele tinha um ateliê no Paraíso. “Viviam os malucos todos lá. Ímã de louco”, lembra. “Os caras iam embora e deixavam a louça toda pra eu lavar. E trabalho que é bom, ninguém trazia porra nenhuma!”. A mudança também se deu em função do Daime.
Em seu terreno, Gitahy planta jagube (Banisteriopsis caapi, também chamado de cipó-mariri) e rainha (Psychotria viridis, frequentemente chamada de chacrona), ingredientes fundamentais na preparação da Ayahuasca, utilizada nos cultos da União do Vegetal, Natureza Divina e outros rituais xamânicos. Onde quer que esteja, porém, Gitahy tem a arte como refúgio. Sua trajetória mística se deu entre o punk e o sagrado. Grafite, filosofia e floresta são todos caminhos para sua jornada pelas entrelinhas da arte. Celso Gitahy, o artista escondido, segue em sua busca por uma arte essencial.